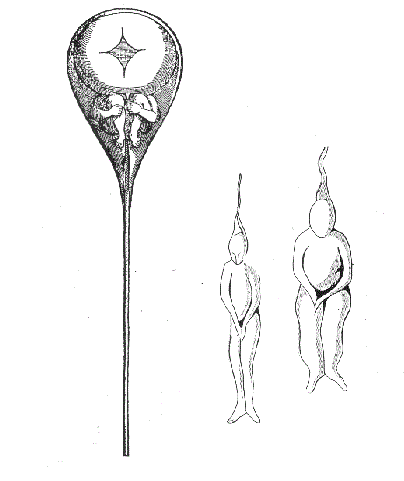A reprodução humana já foi um dos maiores enigmas que tivemos. Antes dos ultrassons em 3D e do consenso científico sobre a união dos gametas, o que existia era um amontoado de palpites, teorias improváveis e experimentos que hoje soam inacreditáveis. É justamente nesse contraste, entre os avanços mais recentes e os tropeços históricos, que a embriologista e pesquisadora brasileira Rossana Soletti mergulha em A Ciência da Gestação (Zahar). O livro é um passeio pelo universo da gestação: do balé microscópico entre óvulo e espermatozoide, aos sinais que guiam essa dança dentro do corpo materno, passando pelas camadas complexas da inseminação artificial e pelo desenvolvimento do bebê, sem esquecer as transformações que ocorrem na mãe – inclusive cerebrais.
Hoje, nós sabemos, por exemplo, que uma menina nasce com cerca de 2 milhões de óvulos. Na puberdade, esse número despenca para 400 mil, e apenas uns 400 chegam de fato a completar todo o ciclo de ovulação. Já os homens jogam em outra estratégia. Um organismo saudável fabrica diariamente algo em torno de 200 milhões de espermatozoides, cada um medindo 0,05 milímetro — curiosamente, o espermatozoide de um camundongo é 2,5 vezes maior, enquanto o da mosca-das-frutas alcança seis centímetros (vinte vezes o tamanho do próprio inseto).
O encontro entre óvulo e espermatozoide também está longe de ser a corrida simplificada que vemos por aí. O óvulo não fica ali, imóvel, esperando a “invasão”. Ele tem seus truques para guiar os candidatos: alguns seguem gradientes de temperatura (termotaxia), outros nadam contra o fluxo dos fluidos uterinos (reotaxia), e há ainda os que respondem a sinais químicos (quimiotaxia). Pesquisas recentes indicam que essa comunicação pode variar de pessoa para pessoa. Em outras palavras, pode haver óvulos que se afinam mais com os espermatozoides de uma pessoa do que de outra — como se a seleção do “par ideal” continuasse até mesmo nesse momento.
E não é só o corpo que se transforma na gestação. O cérebro materno também se reorganiza. Estudos de neuroimagem mostram redução da massa cinzenta em áreas ligadas à percepção de rostos e emoções. Parece perda, mas não é: trata-se de uma “poda” que reforça conexões e melhora a resposta às demandas da maternidade. Essas mesmas áreas se acendem com intensidade especial quando a mãe olha para o próprio bebê, em comparação a outros. É como se a biologia reprogramasse, silenciosamente, o olhar e a sensibilidade.
A ciência da gestação: passado, presente e futuro

Compre agora: Amazon – R$ 80,90
Tudo isso começa em escala microscópica. Avançamos tanto que hoje é possível saber que um embrião de três dias tem apenas oito células e é menor que o ponto-final desta frase.
Mas, para chegarmos até aqui, a ciência apostou em explicações mirabolantes – algumas, digamos, nada ortodoxas. Soletti resgata histórias curiosas que vão de palpites ingênuos a experiências que hoje parecem absurdas. Eis alguns exemplos:
A centelha animada e o receptáculo
No início dos anos 1600, o que se sabia (ou melhor, o que se achava que sabia) sobre reprodução ainda vinha de Aristóteles. Para o filósofo, o sangue menstrual fornecia a matéria-prima do corpo, enquanto o sêmen trazia a centelha animada, a parte “divina” da coisa. O homem, claro, era visto como protagonista; à mulher cabia o papel de receptáculo, algo como um forno que abrigava e nutria essa faísca de vida. Entre os que embarcaram nessa visão estava o cientista William Harvey — o mesmo que depois ficaria famoso por descrever a circulação sanguínea. Nos seus estudos sobre geração, ele dizia que seres “inferiores” poderiam surgir de material não vivo, como se a vida pudesse simplesmente brotar do nada.
As pessoas observavam que, se a carne ficasse tempo suficiente sobre a mesa, surgiam filhotes de moscas. Acreditava-se que a carne “dava luz” aos insetos. Ninguém sabia explicar como. Simplesmente acontecia, como num estalo. A decomposição, mesmo de materiais inorgânicos, era considerada essencial. Um exemplo clássico: espalhe cascas de trigo no chão, misture com roupas íntimas humanas cheirando a suor, espere 21 dias… e, ‘puf’, da mistura surgiria um rato. Essa era uma crença comum.
Todas as coisas vêm de ovos
Ousando colocar as teorias à prova, Harvey se dedicou a estudar como diferentes formas de vida surgiam — de vermes a larvas. Seus achados acabaram batendo de frente com a teoria da geração espontânea, já que, em todos os casos observados, os seres vinham de ovos. Foi daí que surgiu a chamada “teoria ovista”: a ideia de que a vida já estava pré-formada dentro dos ovos.
Em 1651, Harvey publicou Exercitationes de Generatione Animalium (Tratado sobre a geração dos animais). Logo na abertura, uma ilustração chamava atenção: Zeus abria uma grande estrutura em forma de ovo, de onde saíam desde gafanhotos até um bebê humano. Junto da imagem, a frase que se tornaria célebre: Ex Ovo Omnia (Todas as coisas vêm de ovos).

A partir daí, ganharam força duas correntes que, embora diferentes, tinham algo em comum: o preformismo. Segundo essa visão, humanos já estariam “pré-montados” nos gametas, fosse no óvulo (posição dos ovistas) ou no espermatozoide (posição dos espermistas). Um dos exemplos mais marcantes veio em 1694, quando o físico holandês Nicolaas Hartsoeker publicou, em seu Ensaio de Dióptrica, um desenho intrigante: um “homenzinho” em posição fetal dentro da cabeça de um espermatozoide.
O desperdício de almas
Um dos argumentos contra o espermismo girava em torno do que chamavam de “desperdício de almas”. A ideia era: se cada espermatozoide é uma miniatura de um ser humano em potencial, quantas vidas seriam desperdiçadas a cada ejaculação? As explicações da época eram bem criativas. Alguns cientistas acreditavam que os espermatozoides que não se transformassem em um bebê simplesmente evaporavam, flutuando pelo ar até se reagrupar e dar origem a novos gametas. Contudo, essa ideia não respondia como o suposto retorno ao corpo e espermatozoides de um homem aconteciam. Estariam as chuvas repletas de minisseres de todas as espécies tentando alcançar os órgãos reprodutivos dos respectivos machos?
Sapos de calça
O fisiologista italiano Lazzaro Spallanzani, defensor da ideia ovista, foi um dos pioneiros a desvendar o papel dos espermatozoides na fecundação. E seus experimentos eram, no mínimo, curiosos. Para testar suas teorias, ele vestiu sapos machos com calças apertadas (sim, calças apertadas, o que hoje chamaríamos de ‘calça skinny’) e os deixou acasalar – ou, como ele mesmo descreveu, “procurarem uma fêmea com igual entusiasmo e realizarem, da melhor maneira possível, o ato de geração”. Não existem fotos nem ilustrações das minúsculas calças, então a cena fica a cargo da imaginação.
O resultado? Os sapos de calça não tiveram sucesso em gerar filhotes, diferente do grupo de controle, com sapos pelados. Mas Spallanzani coletou o sêmen que ficou preso às calças, depositou em outro ambiente com fêmeas e… voilà: os ovos se desenvolveram normalmente, dando origem a girinos, sem que o ato sexual propriamente dito fosse necessário.
Animado com o achado, ele passou aos mamíferos, usando cães. Desta vez não precisou de roupas: coletou o esperma dos machos e o introduziu nas fêmeas, que engravidaram. Nascia ali o primeiro relato de uma inseminação artificial.

Sementes mágicas no antigo Egito
O primeiro teste de gravidez registrado vem de um papiro egípcio datado de 1300 a.C. A ideia era simples: a mulher urinava diariamente em dois sacos, um de trigo e outro de cevada, durante dez dias. Se as sementes germinassem, ela estaria grávida. E o “gênero do bebê”? Ah, isso estava no cronograma de germinação: cevada primeiro = menino; trigo primeiro = menina. Obviamente, a precisão era zero, mas cientistas modernos notaram que os altos níveis de estrogênio na urina podem, sim, acelerar a germinação das sementes, ainda que não revelassem gênero algum.
O hálito da cebola
Outro método egípcio e grego antigo (400 a.C.) era ainda mais… curioso: a mulher inseria uma cebola na vagina à noite e, no dia seguinte, o hálito determinaria a gestação. Alguns textos falam que hálito acebolado indicava gravidez, outros que não. Resultado? Pouco confiável e, felizmente, pouco popular.
The rabbit died
No início do século XX, a ciência começou a formalizar testes de gravidez. Médicos alemães Selmar Aschheim e Bernhard Zondek criaram o chamado teste A-Z (1927), que envolvia injetar a urina da mulher em camundongos fêmeas duas vezes por dia, durante três dias. No quarto dia, os animais eram mortos para inspecionar os ovários. Se estivessem aumentados e com sinais específicos, a gravidez era confirmada. Bizarrices à parte, o índice de acerto chegava a 98%.
Nos Estados Unidos, Maurice Friedman adaptou a técnica em coelhas: urina injetada, observação cirúrgica dos ovários e, voilá, a expressão “the rabbit died” (o coelho morreu) virou sinônimo de gravidez confirmada.
O sapo salvador (e agora pelo mundo afora)
O britânico Lancelot Hogben deu um passo à frente com o teste do Xenopus, sapo-com-garras africano: a urina da gestante induzia a ovulação no sapo, e, como a ovulação era externa e visível, as coisas ficaram mais fáceis. A grande vantagem, para ele, era que os animais podiam ser reutilizados.
Na década de 1960, os testes de gravidez evoluíram de vez com os métodos imunológicos. Anticorpos capazes de detectar o Beta hCG permitiram exames rápidos em consultório, sem necessidade de animais vivos. Os famosos Xenopus, que antes eram estrelas dos laboratórios, foram “libertados” — alguns se espalharam por cidades, outros viraram animais de estimação. Alguns, inclusive, escaparam de laboratórios no País de Gales e formaram populações selvagens que duraram cerca de 50 anos. Mas essa liberdade teve um custo: os sapos carregavam fungos que acabaram dizimando diversas espécies de anfíbios nativos. Hoje, os descendentes desses sapos africanos estão espalhados pelos quatro cantos do mundo. Mas essa liberdade teve um custo: os sapos carregavam fungos que acabaram dizimando diversas espécies de anfíbios nativos. Hoje, os descendentes desses sapos africanos estão espalhados pelos quatro cantos do mundo.
O apagamento
Se parte do livro mergulha nas bizarrices históricas da gestação, Soletti lembra que nem todas as histórias estranhas se resumem a experimentos malucos. Algumas envolvem o apagamento de pessoas que fizeram a ciência avançar. É o caso da inseminação artificial. Jean Purdy, considerada a primeira embriologista do mundo, teve papel central no desenvolvimento da técnica, assim como Miriam Menkin, que, em 1944, realizou com sucesso a fertilização in vitro de óvulos humanos em laboratório. Mas o reconhecimento ficou quase todo com colegas homens. Purdy, por exemplo, só foi receber prêmio pelo feito depois que já havia falecido (a história, inclusive, ganhou enredo no filme ‘Joy’, disponível na Netflix).
O livro também resgata cientistas como Nettie Stevens, que descobriu os cromossomos sexuais XY, e Rosalind Franklin, cuja imagem de difração de raios-X foi fundamental para a descoberta da estrutura do DNA – também sem receber o devido crédito.
Soletti nos lembra que a ciência não é feita só de descobertas, experimentos, acertos e tropeços. É também feita de escolhas sobre quem será lembrado e quem será esquecido.