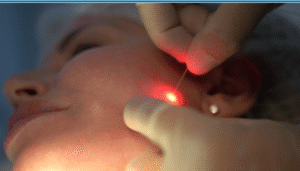Embora as Nações Unidas sejam uma organização de alcance global, é justo dizer que poucos de seus especialistas seriam reconhecidos na rua. Uma das exceções é a advogada Francesca Albanese, 48 anos, que exerce o cargo de relatora especial da ONU para os territórios palestinos ocupados desde 2022. A julgar pelos ataques que recebe de figuras do governo israelense e de seu principal aliado, os Estados Unidos, ela parece ser temida. Em março de 2024, quando poucos ousavam acusar Israel sequer de crimes contra a humanidade em Gaza, a jurista publicou um relatório intitulado Anatomia de um Genocídio, crime internacional que está agora se desenrolando com “provas contundentes”, como disse em entrevista por vídeo a VEJA na segunda-feira 25. Para Albanese, a primeira mulher a ocupar seu posto desde que foi criado, em 1993, não só Israel, mas a comunidade internacional — incluindo o Brasil — se isenta de responsabilidade quando o assunto é a situação “apocalíptica” de Gaza. Enquanto ainda condena os “crimes terríveis” cometidos pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, ela cutucou com seus relatórios vespeiros que incomodaram muita gente, sendo alvo de ameaças de morte e sanções econômicas dos EUA. Mas garantiu a VEJA que não se abala. “Certas pessoas não nasceram para se curvar, e acredito ser uma delas”, afirmou.
Nos primeiros meses do conflito, a senhora alertou em relatórios da ONU que “o povo palestino corria grave risco de genocídio”. Quando e por que teve certeza de que esse risco se tornou realidade? Foi em março de 2024, quando reuni as provas contundentes disso em meu relatório Anatomia de um Genocídio. Documentei pelo menos três atos que indicam o crime: 1) matar membros de um grupo; 2) causar danos físicos ou mentais graves aos membros de um grupo; e 3) impor deliberadamente ao grupo condições de vida calculadas para causar sua destruição física, no todo ou em parte. O genocídio ocorre quando esses crimes estão apoiados em uma intenção destrutiva contra um coletivo de caráter étnico, religioso, nacional ou racial. Foi isso que constatei. Naquela altura, mais de 30 mil palestinos haviam sido mortos, incluindo mais de 13 mil crianças. Outros 12 mil eram presumidos mortos e 71 mil feridos, muitos com mutilações graves. Enquanto isso, 70% das áreas residenciais haviam sido destruídas e 80% da população, deslocada à força. Mas eu já tinha soado o alarme antes, por conta de declarações de caráter genocida feitas por figuras do governo israelense, que se referiram aos habitantes de Gaza como “animais”, defenderam que o enclave deveria ser levado “de volta à Idade Média”, e sustentaram que toda a população é responsável pelo ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 e não há inocentes lá. Nos 22 meses de guerra, conversei também com outros relatores especiais da ONU sobre a pertinência do uso do termo “genocídio”. Entre muitos deles, eu era a mais relutante, justamente por ser europeia e muito sensível ao uso dessa palavra em relação a Israel. Mas percebi que minha hesitação — insistindo em falar apenas em “risco de genocídio” ou “possível risco” — acabava permitindo que a situação avançasse. Quando me dei conta, já era tarde.
Podemos falar de genocídio sem uma decisão de um tribunal internacional, como a Corte Internacional de Justiça (CIJ), em Haia? A convenção sobre genocídio não pede que esse crime seja reconhecido por um juiz. O genocídio armênio não foi caracterizado em tribunal, nem o guatemalteco ou o de Sabra e Chatila (no Líbano). Então, por isso, eles não aconteceram? Em relação a Gaza, ainda em janeiro de 2024, três meses após o início da ofensiva, a CIJ emitiu medidas provisórias reconhecendo a possibilidade de genocídio, o que deveria desencadear medidas para preveni-lo. Israel não atuou nesse sentido. Esperar a decisão final da corte é apenas uma desculpa para não assumir a responsabilidade. Os crimes são tão violentos e abomináveis que geram uma responsabilidade internacional de proteger os palestinos e intervir.
A crise humanitária em Gaza tem despertado crescente alarme na comunidade internacional, mas governos não foram muito além de emitir condenações. Que tipo de medidas contra Israel acredita serem necessárias antes mesmo de uma decisão da CIJ? Os Estados-membros da ONU deveriam cumprir suas obrigações e suspender o comércio, impor sanções, interromper a transferência de armas, o intercâmbio e as transações com serviços militares, de inteligência e de vigilância israelenses. A União Europeia é um caso flagrante de desrespeito ao direito internacional: renovou recentemente o Acordo de Associação com Israel, que garante a este país sua maior parceria econômica. Enquanto isso, o Brasil recentemente se juntou à África do Sul no processo contra o país na CIJ, mas seus laços comerciais continuam no mesmo nível de antes da guerra. Muitos outros seguem com acordos de livre comércio com Israel. Isso não é normal e precisa acabar. É o seguinte: a situação em Gaza não é uma crise humanitária causada por um terremoto ou um tsunami, mas um desastre criado pelo homem, de proporções apocalípticas, e não chegamos a esse ponto de um dia para o outro. Há 22 meses que os Estados-membros da ONU assistem a esse processo e continuam a cooperar com Tel Aviv.
Quão confiante a senhora está, então, de que os casos do Tribunal Penal Internacional (TPI) e do CIJ contra Israel resultarão em ações concretas no futuro? Olha, preciso reconhecer que já há algumas ações concretas. Na América Latina, há um grupo liderado pela Colômbia; na África, a África do Sul está à frente, junto com outros países do continente; na Ásia, a Malásia. São Estados que realmente têm se empenhado em avançar com uma agenda concreta de medidas para impedir o genocídio — por exemplo, interromper a entrega de armas, suspender outros tipos de serviços por meio de seus portos e exigir responsabilização, levando à Justiça aqueles que cometeram crimes. Mas é claro que esse grupo precisa se ampliar, porque sendo pequeno corre o risco de sofrer retaliações de Estados poderosos, como os Estados Unidos. É por isso que acredito que esta é a oportunidade de construir um novo multilateralismo, baseado não apenas em valores ocidentais, mas em valores universais — no qual Estados do Sul Global, que hoje estão em uma posição muito diferente daquela de 50 ou 70 anos atrás, possam desempenhar um papel crucial, liderando o caminho de forma destacada e com princípios firmes.
A morte de cinco jornalistas em um ataque ao Hospital Nasser na segunda-feira 25 reacendeu o debate sobre o trabalho jornalístico no conflito. Desde o início da campanha militar israelense, jornalistas estrangeiros foram impedidos de entrar em Gaza por conta própria, e nunca antes tantos profissionais da mídia morreram em uma guerra. Como interpreta esses fatos? Israel não quer que ninguém veja de perto o que está acontecendo. Não sei se acreditam sinceramente que conseguirão manter os olhos do mundo afastados até “limpar” Gaza, para então reconstruir o que chamam de uma “riviera” e transferir forçadamente toda a população palestina para lugares como Sudão, Somália ou Indonésia. Não sei o que Israel tem em mente, mas seja o que for, está se traduzindo em atos ilegais. O fato de não haver jornalistas em Gaza, somado ao assassinato de mais de 220 profissionais de imprensa até agora, é revelador. Israel não quer testemunhas capazes de relatar o que acontece lá.
A França, seguida por Canadá, Austrália, Reino Unido e possivelmente Nova Zelândia, anunciou que reconheceria um Estado palestino na Assembleia Geral da ONU no próximo mês. Seria a primeira vez que países do G7 dariam esse passo. Pode ter algum efeito na guerra ou na abertura do caminho para uma solução de dois Estados? É difícil dizer. Pergunto-me se esses países estão realmente comprometidos com a solução de dois Estados. E, se estão, por que ainda não reconheceram a Palestina? Há 35 anos defendem essa solução. Será que isso exige meses de espera? Será que precisa chegar ao fim de um genocídio para reconhecer a Palestina? Será que é necessário que todo o território seja tomado e toda a população seja morta ou expulsa à força? Não deveria ser. Embora o reconhecimento do Estado da Palestina seja muito importante, parece-me que alguns países utilizam a medida como forma de ganhar tempo enquanto a situação no terreno se agrava. Se a intenção dessa medida é realmente proteger os palestinos, então ela deveria ser adotada imediatamente, sem esperar até setembro. E, caso a decisão seja adiada, que ao menos interrompam o envio de armas, cessem as transferências militares e suspendam o comércio com Israel nesse meio-tempo. Ainda há espaço para uma solução de dois Estados, mas certamente não por parte do governo israelense, nem dos Estados Unidos — que estão claramente comprometidos com a limpeza étnica e o genocídio do povo palestino.
Israel afirma que o Hamas possui centros de comando instalados em túneis sob hospitais, mesquitas e bairros civis, e usa a população palestina como escudo humano. Ataques à população de Gaza e a instalações civis são justificáveis nesse cenário? O país usa esse argumento há décadas, inclusive na Cisjordânia, onde não há presença militar do Hamas. Isso nunca foi comprovado; ao contrário, foi refutado por comissões de inquérito e por especialistas independentes, como a Anistia Internacional. Incluí essas evidências no meu relatório. Até hoje não há provas de que os palestinos tenham sido usados como escudos humanos. O que há, na verdade, é uma situação diferente: um exército regular que invade e ocupa o território de outro povo, enfrentando uma guerrilha urbana. E se aceitássemos essa lógica, então qualquer um se tornaria um alvo legítimo. O Ministério da Defesa e as Forças Armadas de Israel também têm instalações em áreas civis. Isso significa que o Hamas está certo em bombardear toda a vizinhança para atingir o Ministério da Defesa, ou um quartel-general militar? Não. A infraestrutura civil ao redor do alvo militar ainda é uma infraestrutura civil.
O ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 matou 1.200 pessoas, deixou mais de 12 mil feridos e fez mais de 250 reféns. A senhora está insinuando que isso deveria ficar sem resposta? Não há dúvida de que o Hamas cometeu crimes terríveis em 7 de outubro. Inclusive, se o ataque tivesse se limitado a bases militares, seria uma coisa, mas atacar os kibutzim e outros locais onde havia civis não tem justificativa. Não estou dizendo que o Hamas não represente uma ameaça a Israel. O que afirmo é que, se Israel deixasse de oprimir os palestinos, teria uma base mais sólida e legítima para reivindicar o direito à defesa, em vez de sustentar uma ocupação perpétua — que agora evoluiu para um genocídio. Mesmo antes do conflito, a CIJ já declarou que a ocupação é ilegal e deve ser desmantelada. Eu e meus predecessores no cargo, ao lado de organizações como Anistia Internacional e a Human Rights Watch, lançamos alerta atrás de alerta para o fato de que o território palestino ocupado estava se tornando um barril de pólvora. A opressão era grande demais, insuportável para os palestinos resistirem. Não foi o Hamas que começou a guerra. Gaza já estava sob uma punição coletiva desde antes de 7 de outubro.
Israel está se preparando para invadir e ocupar a Cidade de Gaza. Quais são as implicações disso? É muito grave. Mais de 70% da Faixa de Gaza está sob ocupação direta, com tropas no solo. E a invasão terrestre desta cidade tem um significado particular, porque ainda vivem ali cerca de 800 mil pessoas. É um imenso campo de deslocados e refugiados, enquanto outras áreas — como Jabalia, Khan Younis e Rafah — já foram destruídas. A Cidade de Gaza não havia sido devastada da mesma forma, em parte porque, historicamente, a ONU esteve presente ali, embora tenha se retirado aos poucos. Agora, porém, ministros israelenses declaram abertamente que querem transformar o local em escombros. Isso significa que estão tentando destruir os últimos vestígios que restam de população. O objetivo é expulsar os palestinos do enclave. Se conseguirem remover quem mora na Cidade de Gaza, será um enorme deslocamento forçado — e, para as forças israelenses, também um grande “sucesso”, pois reduziria drasticamente as chances de retorno dessa população.
França e Alemanha acusaram a senhora de “discurso de ódio e antissemitismo” na ONU. Como responde? Isso virou prática recorrente. Esses governos, mas especialmente Israel e os Estados Unidos, têm lançado acusações de antissemitismo a torto e a direito contra figuras que vão do papa até o secretário-geral da ONU. Curiosamente, até o presidente da França foi acusado de antissemitismo. Agora, uma coisa é atacar judeus pelo simples fato de serem judeus — com discurso de ódio, discriminação, violência. Isso é uma chaga, algo com que os europeus realmente precisam lidar. Mas nada disso tem a ver com a crítica ao Estado de Israel. Essa, aliás, é a minha responsabilidade: analisar e escrutinar as práticas israelenses, da mesma forma que o relator especial sobre o Irã examina as práticas iranianas, e assim por diante. Claro que também observo as violações cometidas pela Autoridade Palestina, mas o fato é que é Israel quem ocupa ilegalmente o território palestino há 57 anos.
Como sua vida mudou desde que os Estados Unidos impuseram sanções contra a senhora no mês passado? E como interpreta essa decisão? Me roubaram o resto de paz que eu ainda tinha. São punições econômicas difíceis de lidar, para mim e minha família, semelhantes ao que o ministro do STF Alexandre de Moraes deve estar sofrendo no Brasil com a Lei Magnitsky. Foi uma medida ilegal do governo americano, simples assim. É algo inédito e sem precedentes que uma pessoa da ONU — seja funcionária ou especialista em missão, como é o meu caso — sofra sanções econômicas e seja proibida de entrar nos Estados Unidos, onde está sediada a ONU, por causa de seu trabalho. Fui acusada de tudo por membros do governo americano: de apoiar o terrorismo, de antissemitismo. Mas as sanções foram impostas porque trabalho em cooperação com o TPI, como fazem outros relatores especiais que lidam com casos criminais, e também porque fui considerada uma “ameaça à economia internacional”. Consegue acreditar? Está claro que se trata de uma retaliação contra mim, depois do meu último relatório, que questionava a responsabilidade do setor privado — incluindo empresas americanas — na economia da ocupação e na economia do genocídio.
Nesse último relatório, a senhora pediu que as corporações multinacionais fossem responsabilizadas por “lucrarem com o genocídio” em Gaza. Como esse sistema funciona — e de que forma seria possível enfrentar isso? É uma espécie de sistema mafioso, em que há uma contaminação entre interesses financeiros e políticos. Claro que as principais empresas envolvidas fazem parte das esferas militar e tecnológica, mas há um sem-fim de pessoas envolvidas, mesmo em países que apoiam a Palestina. Lida-se com esse sistema atingindo o seu coração: o bolso. Precisamos entender os elementos da economia do genocídio e seus atores: a mídia, os componentes militares, o setor privado, as empresas que normalizaram a ocupação (da Palestina), as universidades que silenciaram seus alunos e acadêmicos e cuja prioridade é continuar operando, garantindo seu financiamento e sua associação com o Estado de apartheid de Israel. É hora dessas instituições serem responsabilizadas. Esse sistema é um capitalismo implacável. E não estou propondo nenhuma doutrina política, estou apenas dizendo que tudo o que não tem regras corre o risco de ser explorado.
A senhora disse ter recebido ameaças de morte após a publicação do relatório Anatomia de um Genocídio. Como lida pessoalmente com o peso do seu cargo? Teme pela sua vida? Claro. Sei com quem estou lidando, e também sei que ninguém está seguro quando a lógica da impunidade é permitida. Mesmo assim, assumo a responsabilidade que tenho. Espero que nada de mal aconteça comigo e com minha família, e, ao mesmo tempo, não penso que a vida de palestinos ou de israelenses valha menos do que a minha. Quem escolhe o caminho dos direitos humanos sabe que corre riscos. Mas me proíbo de sentir medo, porque me deixar dominar por esse sentimento, não serei mais livre para pensar e agir. Certas pessoas não nasceram para se curvar, e acredito ser uma delas.
Por que acha que se tornou um para-raios nas discussões sobre a Palestina, diferentemente de seus antecessores? Sua abordagem em relação ao papel de relatora especial difere da deles? Mantive a continuidade do trabalho, mas me adaptei aos tempos atuais. Algumas das minhas análises jurídicas são inéditas dentro deste papel e da ONU. Não havia muita gente falando sobre genocídio antes, e poucos tinham falado com clareza sobre o direito à autodeterminação da Palestina. Mas nenhum dos meus predecessores atuou em um contexto tão grave quanto o dos últimos 15 meses. Acho também que pessoas não estão acostumadas a ver um membro da equipe da ONU, como eu, dizendo a verdade em uma linguagem tão normal, sem diplomacia. Sou bastante cuidadosa com as palavras que uso, mas não suavizo.
Há muito debate sobre o enfraquecimento da ONU. O que a organização fez para resolver o conflito é suficiente? Nunca vi a ONU tão paralisada quanto nos últimos dois anos. Já tinha sentido impotência no contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia, mas em relação a Gaza é muito mais grave, porque há cerca de 60 mil civis mortos, segundo relatos — provavelmente muito mais, dado os milhares de desaparecidos. Além disso, com o bombardeio dos registros civis da população, será difícil entender realmente tudo o que aconteceu em Gaza. Faremos o nosso melhor assim que as bombas pararem de cair. Por ora, a ONU não conseguiu avançar em uma solução política nem manter uma posição firme na avaliação das responsabilidades legais de Israel. Há vastas partes da organização que ainda nem mencionam a ilegalidade da ocupação (da Palestina). Outras têm dificuldade em reconhecer que há um genocídio, resistindo a usar o termo e oferecendo apenas fatos sem apresentar uma avaliação. Veremos como será na próxima sessão da Assembleia Geral.