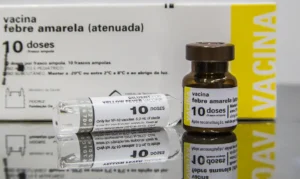por Ramon Barbosa Franco
Nasci em 1979 numa pequena cidade do Interior de São Paulo, distante a quase 600 quilômetros da maior cidade do Brasil e uma das mais populosas do mundo. Rodeado de cana, numa rua recém-asfaltada, no caminho para a escola passávamos perto de um terreno de quase um quarteirão inteiro sem que casas ali tivessem sido construídas. No meio deste terreno tinha uma casinha, bem pequena para ser um lar, mas grande suficiente para dar entender que seria um escritório.
Ao lado desta construção, rompia para cima uma antena de ferro, mais alta que a caixa d’água da Prefeitura e na sua ponta, isolada quase tocando as três marias e outras constelações que o vizinho custava a querer me ensinar e eu nada conseguia ver, uma lâmpada vermelha piscava todas as noites.
Era para o avião não bater, porque a antena ali instalada numa época remota quando a cidade ainda não havia chegado por aquelas redondezas, que margeavam o cemitério, servia para as ondas médias da única emissora de rádio da cidade. Sempre soube, por conta desta enorme antena e por conta da emissora, que o inventor do rádio havia sido Marconi, que depois vim a saber que se chamava Guglielmo – que no português falado em todo o território desta Terra de Vera Cruz se equivale a Guilherme.
Para mim, todas as cidades tinham uma rádio com o nome Marconi, era justo que o inventor do rádio batizasse as emissoras espalhadas por todas as cidades. Minha cidade era pequena, ao lado, pouco mais de 30 quilômetros no sentido Leste, para o mesmo sentido da Capital, São Paulo, havia uma cidade um pouco maior, que eu achava que era do tamanho de Nova York, de tão grande que me parecia na minha primeira infância.
Nova York era a cidade que passava na TV, assim como Los Angeles que estava abrigando por aquele período uma olimpíada. Ficava na sala assistindo as competições de natação e quando o nadador parava de nadar, a TV projetava no seu peito a medalha que ele havia acabado de ganhar. Fazia um pouco de frio por aqueles anos, por agora quase não temos dias frios, mas naquele período o frio existia. Lembro que eu tinha uma blusa muito confortável e que no peito havia uma águia com uma cartola, que depois aprendi que era a mascote das Olimpíadas de Los Angeles.
Sempre me referi a mascote com o artigo definido o, por achar que fosse um substantivo masculino e até hoje ao escrever me pego errando na utilização desta palavra, que, para mim, ainda soa como se fosse um substantivo masculino. A mascote era a Sam, uma águia verdadeira americana com a cartola do Tio Sam, uma figura emblemática que sempre transpôs as barreiras do idioma inglês para demonstrar uma faceta das terras acima do Rio Grande, na longínqua América do Norte, mas que pelo aparelho de TV estava a um click dos meus toques e a poucos palmos de distância dos meus olhos.
Era lá que vivia o pica-pau, os cowboys e o ‘Duro Na Queda’, um dublê que tinha uma caminhonete e passava no sábado à tarde pelas minhas lembranças de infância. Los Angeles ou Nova York, para mim, ficava a menos de 30 quilômetros, numa cidade vizinha, cuja a avenida central, a do comércio com as lojas de brinquedos e a dos restaurantes que serviam refeições em cumbuquinhas de barro, era a representação das luzes que via nos filmes de detetive onde o mocinho entrava no táxi e pedia para seguir aquele carrão preto, cheio de bandidos malvados.
?Participe do canal Fala Marília no WhatsApp
Sempre íamos para a escola cedo e muitas vezes a luzinha vermelha da ponta da antena da emissora AM continuava a piscar para avisar os bimotores que sobrevoavam baixo demais que ali não era a plantação de cana que precisaria ser pulverizada com agrotóxico. Hoje, lembrando da minha cidade natal, ainda me vem a densidade de sentimentos tristes que pairavam por lá.
Muitas famílias dependiam do corte de cana e seus filhos, ainda adolescentes recém-entrados na puberdade, com 12 ou 13 anos, já trocavam o caderno e a bola de futebol, o campinho do bairro e as brincadeiras de esconde-esconde, pelo facão, podão e o embarque às 4 da manhã nos ônibus que os levavam aos carreadores. Coloquei tudo isso quando escrevi ‘Canavial, os vivos e os mortos’ (La Musetta Editoriais, 2022).
Muito triste ver estes meninos, um pouco mais velhos que o meu irmão maior por parte de mãe, a esperar na rua de cima de nossa casa ou na esquina da casa de nossa avó, pelo ônibus do dia. Dizem que Jerusalém mata seus profetas – e eu não duvido desta frase milenar, pois o Verbo que caminhou por lá acabou por ser pregado friamente numa cruz – e assim, por assimilação, digo que por aquele período minha cidade-natal matava o seu futuro.
Ali muitos deixaram de seguir os estudos para engrossarem as fileiras dos carreadores dos cortes de cana, de modo manual e intenso, pesado e abafado. Esta tristeza não deixa ninguém impune. Ninguém. É a tristeza da desigualdade social, da injustiça e falta de oportunidades. Por isso, me doía quando a gente ia para uma praça pública e nem ao menos para uma pipoca essas crianças humildes e desamparadas tinham.
Era realmente triste. Me recordo que uma noite, com os meus pais tomando sorvete numa sorveteria, nos passa um menino de no máximo 12 anos e pede para nós um sorvete de massa. Meu pai, prontamente entrega o sorvete dele para este menino, que carregava em si a tristeza de todos os outros meninos simples da minha cidade e sem futuro.
Ele até sorriu, e lembro que tinha a cabeça raspada, feita daqueles meninos que eram atendidos por reformatórios. Desceu para o lado da Barra Funda numa antiga noite de sábado, noite esta em que ele deveria sim estar na companhia de seus pais e irmãos tomando sorvete, assim como nós.
Para encerrar, quero citar a magnânima frase em que Soeiro Pereira Gomes (1909-1949), imenso escritor português ainda pouco conhecido por este Brasil, escreveu ao dedicar o seu profundo romance ‘Esteiros’: ‘Para os filhos dos homens que nunca foram meninos escrevi este livro’. Penso que tenha sido exatamente este sentimento que me moveu ao colocar no papel a trama de ‘Canavial’.
Ramon Barbosa Franco é escritor e jornalista, autor dos livros ‘Canavial, os vivos e os mortos’ (La Musetta Editoriais), ‘A próxima Colombina’ (Carlini & Caniato), ‘Contos do japim’ (Carlini & Caniato), ‘Vargas, um legado político’ (Carlini & Caniato), ‘Laurinda Frade, receitas da vida’ (Poiesis Editora) e das HQs ‘Radius’ (LM Comics), ‘Os canônicos’ (LM Comics) e ‘Onde nasce a Luz’ (Unimar – Universidade de Marília), ramonimprensa@gmail.com